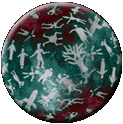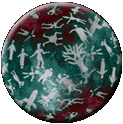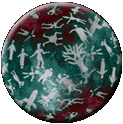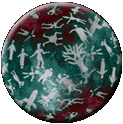|
Estamos nos propondo a discutir um pouco este lugar, Bahia. É
importante discutir identidade cultural nesse lugar?
Acho que é...
A gente está vivendo um momento muito difícil, estamos
perdendo todos os parâmetros, as certezas... Eu acho que discutir
as origens talvez leve ao entendimento das conseqüências.
Estamos em um mundo que muda constantemente e é preciso um
direcionamento nessas modificações que ele vai sofrendo.
Não tem mais um governo político, a divisão
geográfica... É um mundo sem governos. As leis são
as de mercado. Um mercado cada vez menos humano, mais monstruoso.
Se você entende a sua origem, quem você é, e
preserva determinados valores, você também corre o
risco de excluir o que não é isso. Entender quem eu
sou me leva a entender e respeitar quem o outro é, que às
vezes é diferente de mim. Isso ampliando para o pessoal e
também para o nacional. Entender o quem somos pode levar
a um nacionalismo e gerar uma série de coisas que a gente
tem visto ao longo da história, com conseqüências
muitas vezes dramáticas. Através disso, manipulam-se
certos mecanismos que geram guerra. Eu sou branco, você é
negro, você é maometano e não cristão,
eu estou certo e você está errado. Tudo isso gera essa
manipulação que a gente está vendo. As guerras
inter-étnicas lá na África, nos Balcãs...
Então, entender o que a Bahia é, o que a Bahia dá,
não é achar que a Bahia é o modelo e que o
outro é errado.
A que aspectos
da sociedade, exatamente, você se refere quando se sente assim?
É um
equilíbrio tão delicado, que a gente tem que procurar
na vida, o tempo inteiro, entre essa grande questão que se
coloca no momento: a globalização e a regionalização.
A globalização. para mim, é um novo nome de
imperialismo. É conquista de territórios, de mercado,
de uma série de coisas. Mais explícita e, ao mesmo
tempo, mais disfarçada. As grandes indústrias e os
grandes trustes internacionais manipulam os governos. Destroem as
fronteiras. Isso vai deteriorando certas consciências e valores.
Hoje, se você chama um jovem ator para trabalhar, ele primeiro
quer saber quanto vai ganhar. O compromisso ou a escolha de um compromisso
com o que fazer, depende disso. Eu vejo como um descompromisso geral,
emocional, tudo. Isso é terrível. Se você faz
alguma coisa para sobreviver, você antes tem que saber onde
está se metendo e a quem você está apoiando.
Depois você resolve se faz ou não faz. Resolve quanto
vale sua alma. Mas, para saber quanto vale sua alma, você
precisa saber a quem você está vendendo. Porque você
pode dar de graça a sua alma, ou você pode cobrar muito
alto, calculando o prejuízo que vai ter. Às vezes,
o dinheiro compensa, para alguns.
Como isso
se manifesta na sua produção artística?
Tentamos delinear
a fronteira entre o entretenimento e a cultura. A cultura é
a forma de fazer de um povo. De ver o mundo e de representar esse
mundo. Através de qualquer coisa. De como se cumprimenta,
de como se comporta diante da morte, diante do nascimento, os rituais...
quer dizer, todo o caldo cultural, que marca a identidade de um
grupo social qualquer. O entretenimento é exatamente a utilização
desse caldo cultural para distrair as pessoas dos grandes problemas...
O entretenimento não é a cultura, faz parte de uma
cultura. Às vezes, é preciso se distrair, dessas coisas
todas. Se dispersar, se enganar e depois voltar a si, voltar a refletir
sobre. Acho que a cultura é esse processo de reflexão
sobre o mundo, sobre o que se desconhece, sobre o que se conhece
e até de descobrir o que se não conhece e se questionar
sobre o que se conhece de uma forma própria. E o mundo é
tão rico, porque tem tantas formas próprias, que a
gente nem conhece. Tribos que se acabam por aí, pequenos
agrupamentos que se transformam... O primeiro passo é esse
e, para a gente, neste momento, está muito difícil
isso, para a gente Brasil, Bahia, tá cada vez mais difícil
separar... Exatamente por causa desse conglomerado de forças
de venda e de compra, de impor regras de mercado a coisas que não
fazem parte disso. A cultura não é um produto de consumo.
Até existem produtos culturais de consumo, mas a cultura
não é um produto de consumo, é um produto estrutural.
Não é uma coisa que se coloca sobre; é a parte
íntima, a espinha dorsal de uma nação, no sentido
de grupo social autônomo com uma identidade e com um poder.
Acho que esse é um primeiro ponto, e o mais difícil.
Depois disso, delineadas as fronteiras, como é que a gente
fala para o próximo? E que, ao mesmo tempo, não é
tão próximo assim? É distante porque está
do outro lado, é o interlocutor, é quem você,
às vezes, desconhece e tem que tocar, e tem que entender,
ouvir e contracenar. No caso do teatro, também é dúbio,
é muito complicado, porque a gente tá falando para
um público meio anestesiado, em busca de distração,
em busca de se distrair dessa situação toda, mas que
precisa ser sacudido, ser acordado. Mas a vantagem do teatro é
que trabalhamos com pessoas, e elas já trazem em si todas
essas questões sociais. Quando eu junto seis atores, eu tenho
seis universos, seis qualidades de questões que, mesmo sendo
uma só, são feitas de diversos ângulos. Enfim,
se eu estou atento aos verdadeiros parceiros, a quem constrói
junto, a essa pluralidade que as pessoas trazem na hora de fazer
decisões, escolher o figurino, a música, o cenário,
eu já estou atento a essa identidade cultural nossa, e à
evolução mesmo... A Bahia não é só
capoeira e dendê. É tecnologia também, é
internet... É como a gente se posiciona diante disso, tanto
do tradicional quanto do contemporâneo, do que está
a vir. Se estamos atentos ao nosso umbigo, estamos atentos à
nossa cultura, inclusive a gente parte para o mundo, aberto ao mundo...
Particularmente,
como é que você se vê aqui na Bahia? Como você
situa o seu ser criativo nesse panorama?
Sinto um jogo
de interesses muito grande, que homogeneiza, abafa a criatividade
das pessoas, a espontaneidade delas, a criatividade para sobreviver.
Veja o caso das barracas das festas de largo e do próprio
carnaval (...) Daí, a gente tem esse teatro, fazemos parte
da construção desse espaço. Um processo que
vem desde 1959. Estamos em uma briga contra o mercado. Não
somos mercadoria. A troca do produto artístico criado nesse
teatro deve ser uma outra troca. Não é só o
preço do ingresso, o patrocinador. É uma série
de coisas. Sinto esse lugar como uma peça de resistência.
Esse teatro foi inaugurado em 1964, no ano do Golpe Militar, e,
durante toda a ditadura, aconteceram reuniões aqui, espetáculos,
negociações com a censura, com o poder, porque é
um teatro dentro de uma área do Estado, e o acesso aqui é
controlado por dois portões, sendo um deles controlado pelo
exército. Durante a ditadura, era controlado mesmo, as pessoas
eram abordadas, o acesso era dificultado, e Juracy Magalhães,
governador e representante local desse estado de coisas, liberou
o acesso. Ele deu uma declaração pública de
que esse teatro era muito importante para a cidade. Talvez porque
ele enxergasse aqui a válvula de escape. Que era necessária.
Interessava a eles. Eles não foram bonzinhos ou tolerantes
deixando que o teatro funcionasse. Era a função da
resistência. A gente chegou aqui com o propósito de
reforçar e atualizar essa história, que estava interrompida.
Com a morte de João Augusto, o teatro ficou um tempo sem
um projeto político, estético. Esse teatro se insere
nesse espaço sociocultural e político baiano, afirmando
uma cultura popular, tradicional e, ao mesmo tempo, apontando para
certos caminhos. Junto com a gente veio o Bando de Teatro Olodum,
vieram outros grupos que se dissolveram mas que tinham uma pesquisa
estética própria. Ao mesmo tempo, foi criado o Vila
Dança, a Companhia de Teatro dos Novos foi reestruturada.
O Bando de Teatro do Olodum delimita, cria os contornos, o perfil,
a identidade desse teatro. Vem de uma parceria, de uma cumplicidade,
de um projeto conjunto com o Olodum, uma organização
gerada pelo carnaval. E quando vem pra cá, foi o fim dessa
união. Agora, só resta o nome e uma admiração
à distância. Enfim, veio toda essa força popular.
Diferente da primeira Companhia de Teatro dos Novos, que eram intelectuais,
universitários que romperam com isso e buscavam essa fonte
popular, buscavam reproduzir tudo isso no palco. O Bando de Teatro
Olodum vem das classes operárias, as pessoas, os atores,
vêm de outros grupos e movimentos periféricos, não
em termos de geografia, mas de status. Esse teatro, muitas vezes,
não é reconhecido como teatro. Esses atores vêm
do Movimento Negro Unificado, de fábricas, de igrejas etc.
Eles vêm com uma identidade, com elementos culturais muito
fortes. É um grupo popular, ocupando um espaço que
foi criado para isso. A gente mantém isso. Com o Projeto
Toma Lá Dá Cá, apoiamos grupos como os que
geraram os atores do Bando e que continuam gerando. Esses grupos
periféricos vêm ao Teatro, e nós nos propomos
a ajudar a construir a identidade deles. Não tentar direcionar.
É tentar interferir no sentido de fortalecer os princípios
de cada grupo. Não homogeneizar, mas dar referências
nossas e colocar um espelho: vocês estão certos, mas
a experiência nos diz..., talvez seja mais eficiente.... Tentamos
dizer certas coisas que eles podem aproveitar ou não. Esse
projeto é formatado ano a ano por esse líderes dos
grupos que demandam coisas, e a gente tenta atender na medida do
possível. Não temos dinheiro. Não tem nenhum
patrocinador por trás que mantenha isso. É o próprio
teatro. Recebemos apoio do Estado para manutenção
da estrutura física do teatro. Recebemos em torno de 40%
dos nossos custos fixos. O restante temos que conseguir através
de bilheterias e de projetos. O que é correto. O Estado não
tem que bancar inteiramente. O Estado faz o que tem que fazer, independentemente
de quem está lá agora. É parte das obrigações
do Estado. Nós temos um papel público. Ganhamos pouco
dinheiro para trabalhar aqui. Esse projeto não visa a construção
de um patrimônio particular, nesse sentido, mas um patrimônio
que está à disposição do público.
Essa é a nossa forma de interagir. É reforçando
o sentido que cada grupo desse traz para a construção
de um espetáculo. Eles trazem a identidade das comunidades
de onde vieram. Com todas as contradições. O fascínio
pela Globo, por esse Teatro. Estão acostumados a ensaiar
no quintal da casa de um dos atores, ou na igreja... Chegar a um
teatro todo equipado e moderno é um sonho de consumo de qualquer
grupo de teatro. Formamos uma rede de trocas de informações
e de sistemas de trabalho muito rica. Um novo modo de trabalhar
junto. Não é uma mão estética que está
interferindo no trabalho deles. É um pensamento de um modo
de fazer teatro, que está presente aqui. A idéia é
segui-los, e não fazer que eles me sigam. É perceber
onde eles querem chegar. E isso é muito forte, é fácil
de perceber: eles têm uma convicção muito grande.
E onde eles
querem chegar?
Eles querem
ter voz. Chegar ao palco é ter a possibilidade de serem ouvidos.
É reconstruir um modelo. No caso do Bando, por exemplo, o
mais importante não é a linguagem ou o resultado estético:
é ter se tornado uma referência para muitos jovens
negros, independentemente do desejo que tenham de fazer teatro.
Mas sabem o que o Bando, um grupo de teatro formado por negros,
representa num país em que todo o referencial é branco,
louro, europeu. Na televisão todos os apresentadores são
louros. Não tem um referencial negro para a criança.
Começar a construir esse referencial aqui nesse teatro é
muito gratificante.
Há
vetores temáticos na produção artística
atual?
Não gosto
muito de setorizar. Se eu tenho que pensar, como exercício,
numa setorização da produção teatral,
eu dividiria entre os trabalhos que têm um compromisso com
a discussão, com a reflexão, com o avanço da
sociedade e aqueles que querem distrair a sociedade desse avanço
e para onde ele está nos levando.
Você
gostaria de chamar a atenção para algum grupo?
Acho que esses
jovens do Toma Lá dá Cá têm esse compromisso,
mesmo sem ter, muitas vezes, consciência disso. A universidade
deveria estimular isso nos jovens que chegam até ela. Deveriam
aprender a ser o que se traduz numa palavra já tão
desgastada: a ser cidadãos, pertencentes a alguma coisa.
Acho que esse sentido de pertencimento tem se perdido. E por isso
eu acho que é importante afirmar a identidade. Por que ela
dá isso, essa sensação de pertencimento. Isso
é importante, porque, se você não pertence a
nada, você não tem compromisso com nada. Se essa casa
não é sua, que lhe importa que ela caia. É
ser parte única de um universo, de um todo, sem se sentir
diluído, diminuído. Ao contrário, é
se sentir que você é parte. É sair do um e ir
para o todo.
Ser baiano
e brasileiro. Há confronto?
Acho que é
diferente, mas não há confronto. Há muitos
ciúmes entre as regiões do Brasil. Mas a Bahia são
várias nações. Recôncavo, sertão,
sul... Até a comemoração da Independência,
a gente tem um dia especial. A Independência, na Bahia, foi
depois da Independência do Brasil, porque aqui houve luta
de fato, não houve acordo. Isso também não
nos faz melhor ou pior. Nos faz diferentes. E isso tudo se reflete
na produção cultural. As diferenças e as riquezas
dessas diferenças. E os países devem comportar essas
diferenças.
|