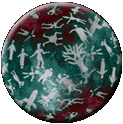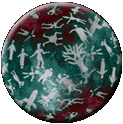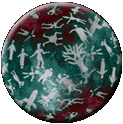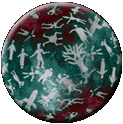|
Quando
você pensa em montar um espetáculo, o que você
quer suscitar no público? Que rotina você segue, normalmente,
para produzir?
Na verdade,
essa é uma rotina que eu comecei há muitos anos. Parei
de estudar teatro várias vezes, parei e voltei, estudei música
e trabalhei muito com arte-educação. Eu acho que tudo
isso pra mim é um meio. Na verdade eu não sou uma
pessoa de teatro, eu não estou nem um pouco interessado em
teatro, essa foi uma conclusão à qual eu só
pude chegar há poucos anos. Eu estou interessado no que eu
posso fazer com teatro, então eu não tenho uma preocupação.
Eu acho que mesmo que a pessoa tenha uma preocupação
inicial de partir de um programa, ela vai conseguir articula-las
num nível muito artificial. A criação não
é uma preocupação, a criação
é um treinamento quase físico. Como um jogador de
futebol tem saudade da bola, um surfista tem saudade da prancha,
o criador tem saudade daquilo. Pra mim, desde o início, sempre
foi uma necessidade de estar envolvido com a questão da cultura,
com a reflexão, com o pensamento, com a expressão,
a capacidade de dar forma às coisas. A minha rotina não
é uma rotina que eu saiba. Quando você entra nesse
mundo, você abre mão de ter controle sobre alguma coisa,
não tem controle sobre nada.
Então
é uma coisa que vai mudando?
Vai mudando,
retransformando-se. Não é uma coisa que a gente saiba.
O acaso tem uma contribuição grande. O acaso é
aquela força que está atuando dentro da gente e que
a gente não conhece. Essa é a força que move
o artista, o criador. É você dialogar com forças
que estão fora do alcance do cotidiano, da consciência,
da lógica de um programa. Eu era um diretor de vanguarda,
fazia umas peças muito sofisticadas (pelo menos assim eram
consideradas, eu hoje acho tudo uma bobagem). Era aquela coisa pretensamente
virtuística mas que não interessa a ninguém.
A vida me ensinou que o teatro não é uma coisa morta,
as pessoas vêem, se emocionam, se apaixonam.
É
uma mensagem que o público entende?
Pode entender,
a depender de como é feito. Eu estudava mitologia grega,
esoterismo, psicanálise e depois joguei tudo isso no lixo.
Isso não interfere necessariamente na criação,
no sentido de ser uma grande contribuição ou uma grande
perda. O que eu aprendi foi com a vida, fazendo peça. A reação
das pessoas me disse algumas coisas que influenciam no meu trabalho
hoje, que eu considero como teatro popular. É um teatro para
o público e as pessoas torcem parecendo futebol. A minha
rotina hoje é buscar uma forma de obra de arte que as pessoas
compreendam, que tenha fantasia, que enriqueça o imaginário
das pessoas, que tire elas da mesmice do dia a dia, mas que seja
simples. Simples não no sentido de banais ou superficiais,
o objetivo é romper com lugares-comuns e atingir grandes
contingentes de pessoas, criando um teatro que se comunique.
Quais são
os espetáculos que você destacaria como os mais importantes
da sua carreira?
Paulo Dourado
- Nos últimos anos eu decidi ser um diretor baiano. Adotei
a frase de Carlos Drummond de Andrade "Cansei se ser eterno,
agora quero ser moderno". Em 1981 eu fiz a peça "Ubu
Rei", que fala de um cara que faz uma campanha pra ser rei.
É uma peça francesa do século 19 e eu fiz uma
versão pornô, como uma comédia grotesca. Logo
depois eu decidi fazer somente peças baianas. Comecei com
um texto de Walter Smetak, chamado "A caverna", que foi
muito bem recebido pela crítica mas ainda era um espetáculo
muito erudito. Em 87,88 fiz uma peça chamada "Sete pecados
capitados", sob influência de Eugênio Barba, diretor
italiano criador do conceito de antropologia teatral. Daí
avancei várias etapas e depois eu fiz "Los catedrásticos",
em 89, por acaso. Foi um espetáculo que eu fiz com um dia
de ensaio para apresentar um dia. Nessa época eu tinha inventado
uma regra: eu ensaio a quantidade de dias que eu for apresentar.
Arranjei um grupo de amigos atores que entraram nessa loucura, ensaiamos
um dia e apresentamos em uma greve da Ufba, na Faculdade de Arquitetura.
Pra mim era uma brincadeira, achava que aquilo era uma coisa boba
porque eu era um erudito. Mas eu vi que as pessoas aplaudiam e gerava
polêmica, aí caiu a ficha, eu fui começando
a entender que teatro podia ser uma coisa popular. Depois de "Los
Catedráticos" eu destacaria também "A conspiração
dos alfaiates" e "Canudos: a guerra do sem fim",
em que eu busquei a linguagem da tragédia. Depois veio "Lídia
de Oxum", uma ópera de Lindemberg Cardoso, que busca
a mistura da cultura popular com a música mais erudita e
em seguida fiz "Quincas Berro D´água", uma
homenagem a Jorge Amado. Na seqüência, o segundo "Los
Catedrásticos", que ficou três anos e meio e teve
em torno de 130.000 espectadores, e "Rei Brasil", no ano |